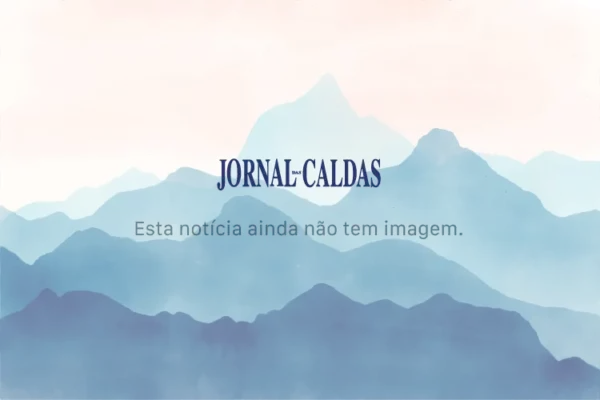O segundo entrevistado da rubrica “Gente com História” nasceu a 24 de setembro de 1938, na freguesia de Assentiz, em Torres Novas.
A mãe era doméstica e o pai era agricultor. “Naquela época era habitual os agricultores ajudarem-se mutuamente e iam às vinhas uns dos outros” e por isso habituou-se desde criança a “partilhar trabalhos e preocupações”.
Foi assim durante toda a sua vida, na igreja, na escola ou no “café”.
Veio para Caldas da Rainha em 1969 e esta passou a ser a sua terra, de onde não chegou nunca a sair até aos dias de hoje.
Aos 13 anos foi para o seminário em Santarém
Jornal das Caldas: Do que se lembra dos seus tempos de criança e como era a sua família?
Eduardo Gonçalves: Eu tinha três irmãs mais novas do que eu. A minha mãe tomava conta de nós e já tinha muito que fazer. Claro que também ajudava o meu pai no campo. Ele era agricultor e naquela época era habitual os agricultores mais pequenos ajudarem-se mutuamente. Iam às vinhas uns dos outros e por isso habituei-me desde criança a partilhar trabalhos e preocupações.
J.C.: Quando é que foi para o seminário?
E.G.: Tinha 13 anos quando fui para o seminário de Santarém. Fui um pouco mais tarde do que era previsto porque tive um problema de saúde, que nunca percebi muito bem o que foi.
Estive internado no hospital de Torres Novas durante três meses. Tinha tomar uma injeção de penicilina, que tinha aparecido há pouco tempo, duas vezes por dia.
J.C.: Por vontade dos seus pais?
E.G.: Não, eles não tiveram influência nenhuma. Foi a minha opção. Quem teve mais influência foi a minha avó paterna e as minhas tias. A minha tia mais velha foi para um convento em Fátima e ficou-me isso na memória. De algo que eu não sabia muito bem o que era.
Da minha parte, não posso dizer que tivesse tido algum tipo de chamamento ou iluminação. Queria experimentar o seminário.
Como qualquer criança naquela altura, ainda por cima numa aldeia, eu frequentava a igreja e gostava.
As minhas ambições enquanto jovem eram muito pequenas. Tirando alguns namoricos, jogar à bola e ajudar no campo, mais nada havia.
O que eu queria mesmo ser era piloto de aviões, mas para não tinha hipótese nenhuma de conseguir isso.
J.C.: Qual foi depois o seu percurso?
E.G.: O primeiro, segundo e terceiro ano foi em Santarém. Depois o quarto, quinto e sexto ano foi no seminário de Almada.
Nós tínhamos um sistema de ensino parecido com o do Estado, com algumas alterações. Havia disciplinas que cá fora não havia, particularmente a partir do 5º ano. Começávamos a deixar a Matemática e as Ciências, para nos dedicarmos mais à Literatura e Filosofia.
No seminário dos Olivais, a partir do sétimo ano, já estudava mais à base da Literatura, Filosofia e História da Igreja.
Depois entrei no curso de Teologia, mas em todos os momentos punha a questão do que queria fazer no meu futuro.
Foi na passagem dos 17 para os 18 anos, quando fui para os Olivais, que eu comecei a solidificar a minha opção pela igreja. O diretor do seminário de Almada já fazia uma espécie de seleção para que só fossem para os Olivais aqueles que já tivessem um certo caminho definido.
J.C.: Como evoluiu a sua relação com Deus?
E.G.: Enquanto era garoto não passava muito tempo na igreja. Passava mais tempo a jogar à bola.
Na verdade, só a partir do último ano no seminário de Almada é que comecei mesmo a possibilidade de me tornar padre ou de sair. De vez em quando ainda me lembrava do sonho de ser piloto de aviões.
Tinha um grupo de colegas e amigos que pensavam como eu, que também não ainda tinham nenhuma decisão, e acabámos por nos influenciarmos uns aos outros.
J.C.: Qual foi o processo que o levou a tomar a decisão de ser padre?
E.G.: É difícil de explicar. Começou a formar-se uma espécie de sentido de vida e um caminho.
A partir de uma determinada altura, achei que fazia sentido a situação em que eu estava.
No entanto, ainda estava carregado de dúvidas, só que naquela altura não havia tanta sedução pelas coisas exteriores como acontece atualmente. Durante dois ou três anos fiquei como um barco parado no mar, porque não havia vento para avançar.
À medida que me ia aproximando do final do curso de Teologia, ia tendo cada vez mais certeza do caminho que queria.
Também tive sempre vocação para o ensino, mas relacionado com aquilo que eu tinha aprendido.
Quando fui ordenado padre, em 1963, estava decidido pelo Patriarcado de Lisboa que eu iria dar aulas de Latim e Música no seminário de Santarém.
Eu aceitei, mas não estava muito satisfeito porque queria conhecer outros mundos e não voltar ao seminário onde tinha estado para ensinar crianças.
Entretanto, o padre Diamantino telefona-me porque tinha sido colocado na paróquia de Montijo, como coadjutor, e como não gostou da experiência, pediu-me se queria trocar com ele.
Fui para o Montijo em outubro de 1963. No dia em que cheguei, de barco, não tinha ninguém à minha espera e nem sabia onde era a igreja. Tinha 24 anos e como ia vestido de padre, acabei por ter a ajuda de um moço, o Júlio, que me levou à casa paroquial.
O princípio não foi fácil. Ia para ser o ajudante do padre e estava disponível para o que ele precisasse.
Naquela altura, era a maneira de ir aprendendo a lidar com o contato com as pessoas. Havia gente, mais velha, que era muito difícil de aturar e para um jovem era complicado de gerir.
Acabei por ir dar aulas de Moral para a Escola Industrial e Comercial do Montijo. Algo de que tinha receio, porque toda aquela zona era um meio culturalmente diferente do ambiente em que eu tinha vivido sempre.
Eu dava aulas à noite e a maior parte dos alunos eram mais velhos do que eu, alguns já eram pais de família. Trabalhavam nas fábricas do Montijo e do Barreiro, que podiam subir na carreira se estudassem.
Nessa altura, as aulas de Moral eram obrigatórias, mas eu tomei a iniciativa de dizer que só iria às aulas quem quisesse.
Foi uma experiência dura, mas aprendi a conviver com pessoas que não tinham nenhuma ligação com a Igreja.
Por isso, achei que o mais importante não seria convertê-los, mas ajudá-los a descobrirem o seu caminho, como eu descobri. Acabou por ser uma experiência positiva e criei laços de amizade com muita gente.
J.C.: Quanto tempo esteve no Montijo?
E.G.: Estive lá quatro anos e depois fui para Santarém, tomar conta, com mais dois padres, de um conjunto de nove paróquias. Algumas delas não tinham um pároco desde o tempo da implantação da República.
Havia uma grande distância entre as várias paróquias, o que tornava difícil a nossa missão. Fomos fazendo algumas alterações e resolvemos fundar uma telescola na aldeia de Tremês. Acabou por ser uma maneira de chegar junto das crianças e das famílias.
J.C.: Quer dizer que desde cedo começou a ter uma influência na educação das pessoas e a mudar o seu futuro?
E.G.: A partir do meu tempo no Montijo eu passei a lidar com duas realidades distintas: uma era a sacristia e a outra era a escola. Ou até mesmo o café, onde eu me reunia quer com gente nova, quer com professores e tinha longas conversas.
No Montijo, por causa das horas que chegava à noite, ainda tive de dizer ao padre Manuel, que estava sempre acordado à minha espera, que não precisava de se preocupar porque eu não ia fugir. Eu tinha a consciência de que estava a ser vigiado.
Tanto no Montijo como em Santarém, aprendi a viver uma parte do meu tempo na sacristia e depois nas escolas, a lidar com pessoas que estavam à margem da Igreja.
J.C.: Quando é que veio para as Caldas da Rainha?
E.G.: Fui nomeado para Caldas da Rainha em outubro de 1969. Estava aqui o padre Albino e a minha entrada foi pacífica.
Fui nomeado principalmente para dar aulas na Escola Industrial e Comercial Rafael Bordalo Pinheiro, mas na altura o padre Vicente (que era o prior da Foz do Arelho, Serra do Bouro e Nadadouro) teve de sair e eu fui nomeado para tomar conta dessas terras.
Assim, continuei a não estar apenas dedicado ao serviço eclesiástico, o que me valeu muito, porque aprendi que as coisas não são sempre “preto e branco”.
Eu “nasci” dentro de uma sacristia, mas passei a viver num mundo que era muitas vezes paralelo à vida eclesiástica.
Durante o primeiro ano ainda ajudei na paróquia das Caldas, mas com a mudança de pároco passei a ficar só com a da Foz do Arelho, Serra do Bouro e Nadadouro. Comecei também a dar aulas no Colégio Ramalho Ortigão, embora continuando na Bordalo Pinheiro.
Em 1971, com a instalação de uma secção do Liceu de Leiria nos Pavilhões do Parque, também fui para lá dar aulas.
Caldas da Rainha passou a ser a minha terra, mas penso que não fui grande prior porque tinha muito trabalho a dar aulas e tinha menos tempo para me dedicar aos paroquianos.
Depois fui deixando de dar aulas na Bordalo Pinheiro, da qual tenho belas recordações, e passei a ter horário completo no liceu.
J.C.: Como é que viveu o 25 de Abril de 1974 aqui nas Caldas?
E.G.: Comecei por viver o 16 de Março de uma maneira muito curiosa. Eu estava na escola, nos Pavilhões do Parque, e eram umas sete e meia da manhã quando chegam alguns alunos que vinham de autocarro de Óbidos. Foram eles que disseram que Caldas estava rodeada de tropas.
Nesse dia apareceram apenas quatro ou cinco alunos e por isso fomos no meu carro até junto do quartel. Demos a volta pelas Gaeiras e por detrás das canas e das árvores viam-se os canos das armas. Acabámos por ver também um blindado no cruzamento do Moinho Saloio.
Entretanto, quando fui almoçar a casa, recebemos uma chamada do então Cardeal Patriarca, António Ribeiro, a perguntar o que se tinha passado nas Caldas. O padre José Guerra não sabia de nada e acabei por ser eu a contar o que tinha visto.
À tarde, quando fui para os Pavilhões do Parque também apareceram os militares. Eu tinha uma apresentação para os alunos da gravação de som da peça “Jesus Cristo Superstar”, no ginásio e foi-me dada a autorização para a fazer. Por isso, tive vários soldados de metralhadora às costas a ouvir, em conjunto com os alunos.
Outra data que me marcou foi o 28 de Setembro de 1974. Nesse dia tinha de celebrar um casamento no Montijo e apanhei todos os postos de controlo que havia entre Caldas e Lisboa. Em cada um deles tinha que mostrar tudo o que tinha no carro. Acabei por nem sequer chegar a Lisboa.
Custou-me um bocado, principalmente quando logo aqui em São Cristóvão tive de parar e ter pessoas minhas amigas a revistar-me o carro.
J.C.: O que mudou nas escolas depois do 25 de Abril?
E.G.: Houve uma mudança radical. Durante algum tempo foi a completa anarquia. Os alunos é que mandavam nas escolas. Considerava-se que professores e alunos tinham igualdade de direitos e deveres.
Havia discussões sobre coisas como o facto de os professores terem direito a comer salada e a beber vinho na cantina. Se os professores tinham esse direito, porque é que os alunos não podiam?
De vez em quando, tocava a campainha a meio de uma aula e havia uma reunião geral de alunos para discutir sei lá o quê.
Chegou uma altura em que eu já estava cansado com tanta novidade. Chegávamos a ter reuniões que começavam às nove da manhã e iam até às cinco da tarde.
Os ânimos estavam muito exaltados, mas nunca houve nenhum problema de maior.
Tivemos de fazer os regulamentos e ir crescendo com base no que íamos discutindo. Depois foi criada a Escola Secundária Raul Proença, no Bairro dos Arneiros, onde continuei a dar aulas de Religião.
J.C.: Como foi a sua passagem pelo Colégio Ramalho Ortigão?
E.G.: O colégio em si foi extinto em 1971 porque deixou de ter alunos, depois de ter sida aberta a seção liceal nos Pavilhões do Parque. Houve uma “explosão” de pessoas a entrar na escola porque deixou de ser necessário pagar para frequentar o liceu.
A convite do padre José Guerra voltei em 1977 para ser o diretor do estabelecimento, quando este só era jardim de infância e com atividades de tempos livres (ATL).
Eram 100 crianças no jardim de infância e mais de 250 no ATL para as crianças da escola primária.
Mantive-me nesse cargo até 1990, quando foi inaugurado o Centro Social e Paroquial das Caldas da Rainha, junto à antiga EDP.
J.C.: Quando começou a dar aulas de Latim na Escola Secundária Raul Proença?
E.G.: Não sei precisar a data, mas foi numa altura em que passou a ser obrigatória a disciplina de Latim para os alunos que queriam ir para Línguas e Direito.
Como não havia mais ninguém com essa possibilidade, aceitei o convite para dar aulas de Latim e deixei de dar aulas de Religião e Moral. Continuei a ensinar o Latim até à minha reforma como professor, em 2004.
Enquanto fui professor de Religião também nunca quis que dar aulas como se fosse na catequese. Eu procurava fazer com que os alunos encontrassem um modo de vida em que pudessem ser úteis para a sua comunidade, qualquer que fosse o seu percurso. A minha preocupação era transmitir valores como a liberdade, a honra, a amizade e o respeito pelo outro e pela liberdade religiosa, entre outros.
Mas quando comecei a dar aulas de Latim, passei a ser olhado de uma forma diferente e já não havia tanta proximidade e à vontade, porque passei a dar notas que eram importantes para o seu futuro.
J.C.: Como é que foram evoluindo as paróquias onde estava?
E.G.: Naquela altura eu tinha cerca de 50 casamentos por ano e ainda mais batismos e funerais.
A partir de uma determinada altura, as pessoas foram fazendo outras opções. Mas para mim isso nunca foi problema.
Em 1997 deixei a paróquia da Serra do Bouro e pedi para ir para Salir de Matos, onde estive até 2009. Depois estive em Figueiros (Cadaval) durante três anos.
Acabei por voltar à Serra do Bouro, Nadadouro e Foz do Arelho, onde fui o pároco até há dois anos.
J.C.: Esteve sempre a morar na residência paroquial das Caldas?
E.G.: Desde que vim para as Caldas até 2011 fiquei na residência paroquial. Depois estive um período numa casa junto à Nazaré, em conjunto com outros colegas, mas regressei às Caldas em outubro de 2019.
Acabou por ser a pior altura para ir morar sozinho, porque depois teve o início do confinamento devido à pandemia da Covid-19. Eu não sabia nada sobre cozinha e foi difícil esse período. Só consegui ultrapassar da melhor forma essa fase devido à ajuda de amigos e familiares.
Entretanto, fui convidado pelo padre João Sobreiro, que veio para as Caldas, para voltar a morar na residência paroquial e assim também ajudá-lo nas suas funções. Para mim foi ótimo porque estava farto de viver sozinho.
Quando me pedem faço casamentos, funerais e batizados. Acabo por ter mais trabalho agora porque nas Caldas da Rainha há muita atividade.
J.C.: Que outras atividades preencheram a sua vida?
E.G.: Entre 2004 e 2012 fui capelão do Hospital das Caldas. A princípio foi muito doloroso, mas foi das melhores experiências da minha vida. Nessa altura, comecei também a colaborar com a associação Olha-te.
Eu nunca vivi só da sacristia e sempre quis estar junto das pessoas.
Sempre gostei muito de música e quando me reformei comecei a estudar hebraico através da internet, para a memória não ficar adormecida.
Comecei também a fazer caminhadas depois de ter tido uma pneumonia grave em 2015.